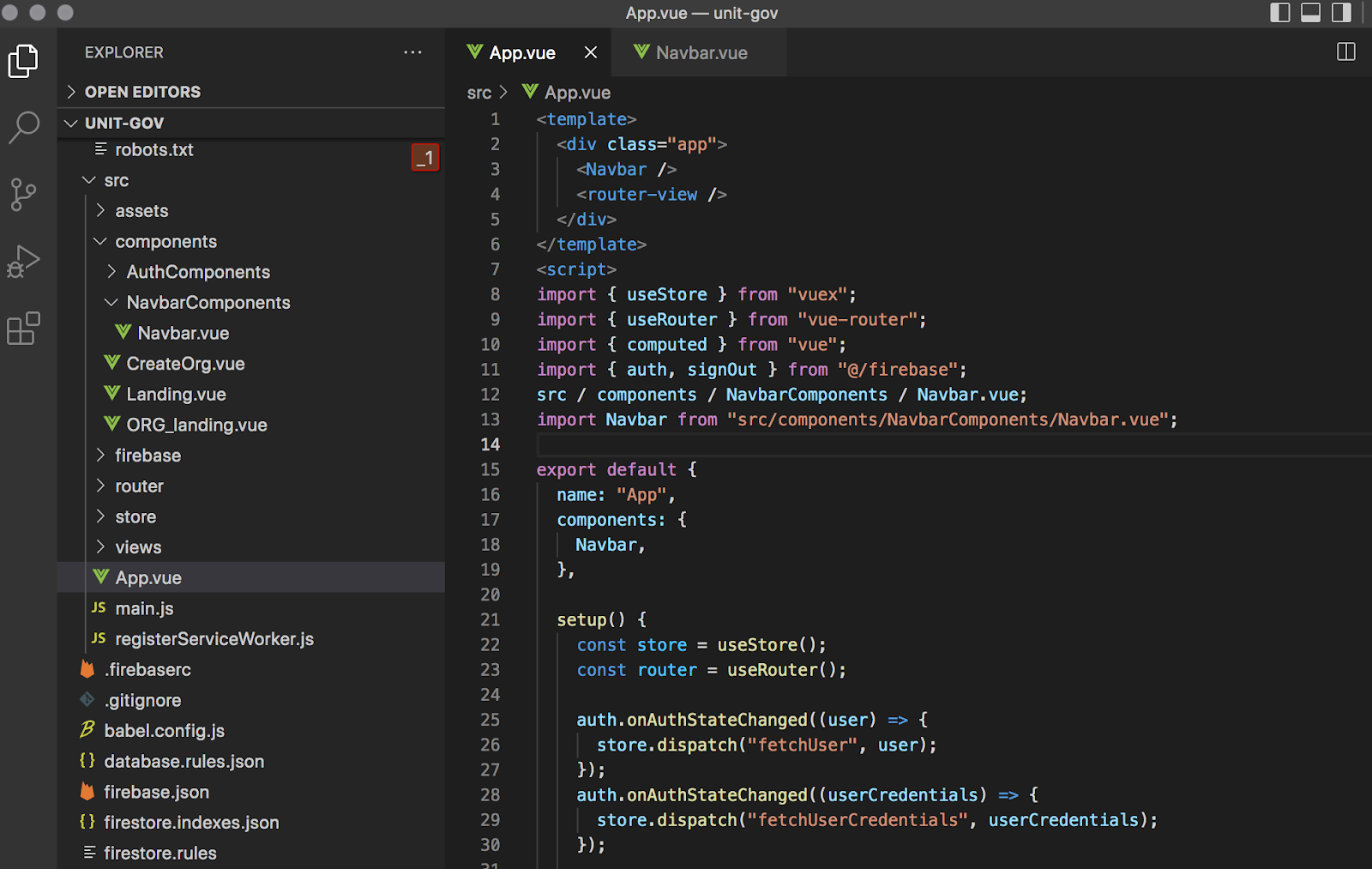Poema do juncal.
Já há uns dias que andava a sentir isto. Há um poema semi-submerso por escrever. Um poema sobre todas as virtudes da tristeza e sobre a mais simples e profunda das felicidades. Sonhei durantes estes dias tê-lo na minha mão, mas não. Soube hoje que está num juncal de águas rasas escondido debaixo de uma pedra de cinco ou seis quilos, achatada e polida pelo mar. A pedra é sempre deixada a marcar um outro e idêntico lugar por quem a vira para quem de novo a vier revoltar. Esse lugar na água só é visível a uma certa distância, nem de muito longe, nem de muito perto, ao pôr-do-sol (e ao amanhecer, do lado oposto), quando a sombra própria do seixo se define no reflexo do sol. Se nos aproximarmos para a revirar, desfazemos a prata tecida entre os juncos pisados por outros animais errantes. Ao enfiarmos a mão por entre as plantas amassadas não encontramos mais que um tipo de lodo acetinado, próprio das águas límpidas, que se lava e desfaz quando o puxamos para cima e do poema nem sinal.
Este não é um poema que se escreva nem se ache. Vai-se definindo nas rugas que se criam nas mãos que persistem em ser humedecidas a virar estas pedras.
Este não é um poema que se escreva nem se ache. Vai-se definindo nas rugas que se criam nas mãos que persistem em ser humedecidas a virar estas pedras.